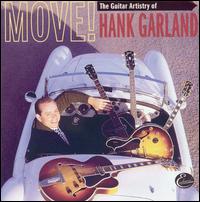A Verdadeira História do Meu Baixo

Eu tenho um baixo Fender muito bala. É pesado como um baixo deve ser, não tem muita frescura de equalização - é deixar o botão do tom no grave e deu. Mesmo assim, tem um som legal. Esses dias o paulinho paulada, que bota som nos shows eventualmente, comentou "afude esse teu baixo, cara. Não é aqueles Fender mexicano falcatrua."
Respondi que na verdade é um Fender brasileiro, série Southern Cross. E foi tudo o que eu soube dizer pra ele - nunca fui fanático por instrumentos, nem mesmo tentei saber melhor como é a tal série brasileira da Fender, fabricada pela Giannini.
Mas depois disso fiquei curioso e fui atrás. Descobri um depoimento do engenheiro Carlos Assale, fundador da marca Dolphin e responsável pelas Fender fabricadas no Brasil quando trabalhava na Giannini. É do site "Super Guitarra". Eis a verdade sobre as Fenders brasileiras, das quais meu baixo é um nobre representante:
P - Você foi o responsável pelas Fender by Giannini. Como foi possível licenciar a marca Fender?
R - É verdade, o projeto Southern Cross. A Giannini tinha conseguido em 1990 uma licença para a fabricação das Fender aqui. O objetivo da fábrica americana era ter um fornecedor de violões tradicional, a quem pudesse confiar essa linha de instrumentos. Foi uma troca de interesses. Coincidentemente, foi na mesma época que eu estava deixando a Dolphin. O Giorgio Giannini - que apesar de ferrenho concorrente tinha comigo uma relação de amizade, respeito e admiração - me convidou para assumir a direção técnica da empresa e, entre outras coisas, tocar o projeto
Fender/Giannini. Começamos a trabalhar em 1991 e enviar amostras para aprovação. Eu fui a interface com a Fender, acompanhado do Roberto Giannini. Visitamos as fábricas de Ensenada e Corona muitas vezes, trabalhamos o produto, demos aulas sobre design e fabricação de acústicos.
Aprovamos o braço em pouco tempo mas o corpo levou uns dois anos e MUITAS amostras - foi preciso muitas mudanças de ferramental. É incrível como a Fender é sensível ao shape da Stratocaster, que é na verdade sua marca registrada, sua identificação. No fim recebemos um fax do Dan Smith, diretor de marketing da Fender, dizendo que o produto tinha melhorado 4000% e que a confiança era tanta que pela primeira vez eles iriam permitir que um produto
produzido fora de suas fábricas e sem seu envolvimento comercial ostentasse o nome Fender no headstock. Fabricávamos em lotes e eles só iam para o mercado depois que um representante deles viesse fazer uma minuciosa inspeção. Elas eram até pesadas!
Foram produzidos cerca de 5000 instrumentos de 1993 a 1995. O projeto foi abortado porque as peculiaridades econômicas do Brasil somadas ao royalty muito alto tornaram tudo economicamente inviável. As más línguas dizem que foi por problemas técnicos que tudo parou, mas nunca houve nenhum problema desse tipo.
P - As Fender brasileiras tinham a mesma qualidade que as americanas, mexicanas e japonesas?
R - Conheci bem essas fábricas e seus produtos. Posso dizer com segurança que, fora o hardware e a captação, não há nenhuma diferença em relação às americanas. Com as outras não há nenhuma. É o que o pessoal que vem testando e comparando tem descoberto.
P - A Giannini chegou a fabricar violões para a Fender? Se sim, esses violões foram exportados? Eram top de linha ou apenas uma linha básica?
R - Não chegou a fabricar PARA a Fender, mas para o mercado interno. Era um violão tipo "Folk" (estilo D da Martin), comercializado por aqui com a marca Fender. Na verdade esse foi o verdadeiro início do projeto Southern Cross. Eram top, inclusive com tampo maciço.